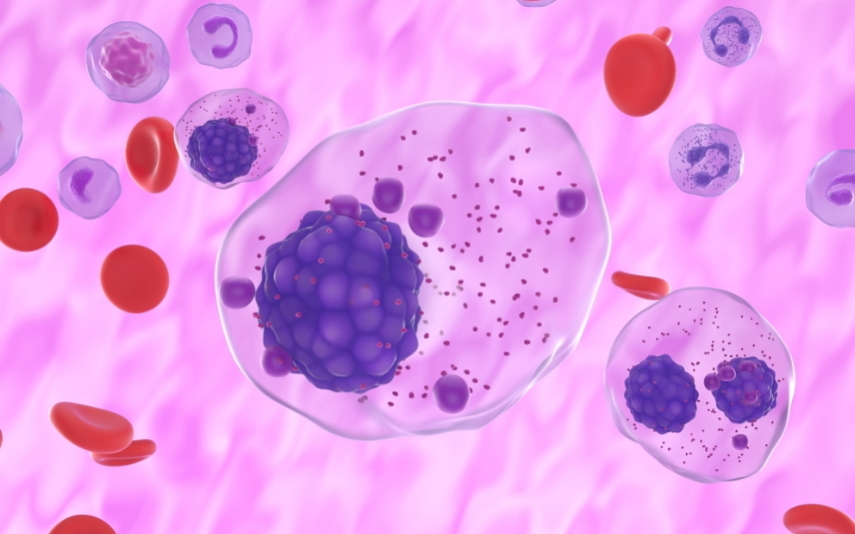Aos 46 anos diz que encontrou o seu -“canto” em Portugal, mas Marcoantonio del Carlo garante que não se importa de um dia para o outro de mudar outra vez de país. Assume que é egocêntrico e que é um privilegiado por fazer o que gosta.
VIP – “Kalibusiswe Ilizwe le Zimbabwe”?
Marcoantonio Del Carlo – Só percebo Zimbábue.
Quer dizer “abençoada seja a terra do Zimbábue”. É o hino do país onde nasceu.
É verdade. Nasci na antiga Rodésia, hoje Zimbábue (em 1965). Agora não é um sítio muito simpático para pessoas de pele branca. Nasci lá por acaso. O meu pai viveu 50 anos em África e, tal como a minha mãe, estava radicado na Rodésia por causa do trabalho. Era engenheiro e depois da guerra saiu de Itália. A história é curiosa: O meu pai era da marinha marcante que levou “porrada” de Mussolini e depois dos Aliados. Eram eles que levavam os mantimentos todos, não tinham defesa nenhuma e eram os primeiros a abater. O meu pai era engenheiro de máquinas e a primeira coisa que ia ao fundo era a casa de máquinas. Sofreu imenso com isso. Esteve aprisionado – penso que no Suez – e ele e o meu tio – que também já faleceu – souberam que havia uma grande jogatana de póquer à noite, no cais, uma coisa clandestina. Faziam ganhar o “tanso” que ia lá na primeira noite para depois voltar e perder tudo. O meu pai combinou com os amigos ir lá ganhar tudo e depois fugir. Assim foi. Nessa madrugada fugiram, foram apanhando barcos até à Sicília e depois fizeram Itália toda a pé. De repente, cinco anos depois, aparecem em casa dos meus avós, que estavam completamente convencidos que já tinham morrido. Estavam num estado lastimável.
Mas como é que chega ao Zimbabué?
Alguém lhe disse que havia palmeiras. Ficou com aquela fisgada e foi parar a África sem nunca ter visto palmeiras ao vivo. Entretanto, conhece lá a minha mãe e acabei por nascer. Dali fomos para Moçambique. Fui o primeiro bebé da Independência, em 65.
E como é que se dá o regresso a Viareggio, na Toscana?
Como África estava cheia de confusões, o meu pai mandou-me com a minha mãe para Itália.
Onde ficou até aos 14.
Sim. Entretanto o meu pai casou-se com uma portuguesa, vim para cá e fui ficando. Até aos 20 e tal anos ainda ia muito a Itália, agora vou apenas de férias. Depois surgiu a primeira guerra do pai Bush – a guerra está sempre metida comigo –, faço a inspeção e fico. Aproveitei o facto de estudar num país estrangeiro para livrar-me da tropa. Essa é a grande razão para ter ficado.
Tem alguma grande recordação da infância/adolescência?
Em Itália tenho um grupo que se encontra todos os anos, normalmente no verão. É um grupo de amigos de praia, que cresceu junto: a primeira namorada, a primeira bebedeira. Hoje temos todos 40 e tal anos, família, filhos e normalmente fazemos um jantar anual. É engraçado porque há dois que vivem no Brasil, outro na Alemanha, e de repente passamos a ser novamente adolescentes durante aquele jantar. As conversas são sempre as mesmas, lembramos sempre a mesma coisa e não há nada de novo. Nunca falamos de nós e daquilo que somos hoje.
Para além dos amigos, também o seu irmão está radicado em São Paulo há 30 anos. Não estranha ter tanta gente longe?
O meu irmão casou-se quase aos 30 anos em Moçambique e arrancou para o Brasil. Ele também é engenheiro – sou a única “ovelha negra” ligada ao teatro – e não é assim tão estranho. É bom. Vemo-nos de dois em dois, cinco em cinco anos. Quando estamos em família, com os primos, falamos de coisas de outros países, outras vivências, e ficam sempre muito encantados por nos ouvirem. Para eles, que estão cingidos à cidadezinha, parece que somos os heróis, quando não somos nada de especial. Simplesmente, temos outra vivência. Nunca estive agarrado a um sítio. Não me importo nada, de um dia para o outro, mudar.
Percebo que é um contador de histórias.
Sou um chato. A minha mulher diz-me: “Nos jantares com os amigos, às vezes tens de te calar e deixar os outros falar.” Não digo que gosto de contar as minhas histórias, mas gosto de contar o que vai acontecendo e refletir sobre elas. Sou um bom conversador.
Sente-se um italiano em Portugal?
Quando estou em Itália levo dois ou três dias para começar a pensar em italiano. Em Portugal, algumas coisas penso em italiano e os meus amigos até me costumam dizer: “Lá está o teu lado Berlusconiano a falar (risos).”
É admirador de Sílvio Berlusconi?
Claro que não. Itália tem de ser vista por italianos. Vista de fora tem muito a imagem de ser a Fórmula 1, a moda, isto e aquilo. Itália não é bem só isso e infelizmente tem coisas muito más. Itália nunca foi um país à séria, ou seja, nunca foi politicamente construído. Mas Berlusconi teve uma coisa boa, pois nos últimos cinco, seis anos, conseguiu meter ordem na casa – o que neste momento não sei se Monti vai conseguir. Depois, perdeu a cabeça com os disparates que fez a nível pessoal, que sendo a primeira figura do Estado não poderia fazer.
Com esta crise em Portugal, não lhe apetece comprar um bilhete e…. bunga bunga, Itália!
Compro o bilhete sempre, mas o meu bunga bunga é com a família. Temos sempre tendência para falar mal de Portugal e realmente tem muitas coisas más, mas comparado com muitos países e continentes, isto continua a ser um oásis. É um país com uma qualidade de vida extraordinária e de brandos costumes.
Há aí uma contradição no seu discurso. Nasceu num país, viveu noutro, anda pelo mundo, mas depois acaba por dizer ser uma pessoa agarrada às raízes.
Também tem a ver com a idade. Uma pessoa vai envelhecendo e vai percebendo outras coisas. Recentemente estive 20 e tal dias no Brasil e outros tantos em Espanha – a fazer dois filmes – e senti uma enorme falta da família e do meu canto. Já me encontrei. Uma pessoa leva uns anos a encontrar-se e só depois percebe que é ali que quer estar.
Quando está esse tempo todo fora, para além desse canto, quais são as particularidades de que sente falta?
Sobretudo da tranquilidade. O meu pai dizia que o português era como o siciliano. Se sair à rua e estiver sol diz que vai ser um dia fantástico; se estiver a chover, pega no guarda-chuva e sai na mesma sem se preocupar muito. Veja-se o exemplo atual, em que o País atravessa um momento extremamente crítico, há movimentos sociais, mas não se vê confusão na rua, “porrada”, carros a arder. Não sei se vai continuar, mas é uma grande mais-valia para se viver. O português é muito mais introspetivo e até que “saia da casca” leva algum tempo. E isso é muito bom.
Tem dupla nacionalidade?
Não. Estou agora a tentar tê-la, mas o governo português é muito complicadinho. Não percebo porquê. Estou cá há mais de 20 anos.
A sua enteada fala italiano?
Vai começando a “arranhar”. Ela adora a minha cidade e é engraçado como as crianças são fantásticas. No primeiro ano, dava-se com muito pouca gente, mas no segundo já a perdíamos de vista na praia com os filhos dos meus amigos. E a falar italiano. Depois volta e esquece tudo, mas já tem conversas com eles.
Voltando à sua vida, como é que percebe que o curso de Direito não é para si?
Nunca cheguei a fazer. Por amigos que tinha do liceu da cidade universitária, soube que tinha entrado, mas nunca fui ver. Achava que aquilo não era para mim, não me via num escritório. A única coisa que me interessava era aquilo que via nos filmes americanos em que os advogados faziam grandes palestras aos juízes e ingenuamente queria “ser aquilo”. Depois, por familiares advogados percebi que não era isso e que era muito trabalho de escritório, estar fechado das 9 às 17h e com 20 e tal anos isso não me seduzia.
E quando percebeu que as artes eram o caminho?
É uma história estapafúrdia. Ia muito ao cinema e quase nunca ao teatro. Acabei por ir parar ao Conservatório por acaso e com toda a ingenuidade dos 20 anos. Fiz audições com o Diogo Infante, o Miguel Seabra, a Rita Loureiro, a Maria Henrique e todos estavam nervosíssimos. Eu não estava nem aí. Para mim aquilo era muito divertido, estar ali a expor-me, a brincar, a contar histórias. Depois conheci o João Mota, o meu grande mestre. Até à primeira aula com ele, estava completamente convencido que ia anular aquilo, não ia sequer pagar as propinas. Depois percebi qualquer coisa. O João Mota tem uma frase emblemática que diz que é mais fácil despirmo-nos por fora do que dentro. E comecei a despir-me por dentro. Foi quase terapia. Fiquei encantado por perceber que tinha a possibilidade de ter uma profissão onde as pessoas pagavam para me ver a representar.
Isso é um pouco egocêntrico.
Profundamente. Mas é a realidade. Aquilo fascinou-me. E na altura não havia televisões. Quem tirasse o curso ia para o teatro ou fazia uns filmes. O trabalho do ator não era como hoje, era muito mal visto. Era uma profissão maldita. Foi a experiência com o João Mota que me fez perceber que queria aquilo.
Foi o seu guru espiritual.
Foi. Mais até do que professor de representação foi um grande pedagogo.
Ficou surpreendido com a nomeação do João Mota para assumir a direção artística do Teatro D. Maria II?
O João é o diretor para o momento de crise. Como pedagogo consegue acalmar todos os ânimos e foi o melhor que podia acontecer.
Falou no à vontade e no que o diferenciava dos outros. É caso para dizer que a representação estava no seu ADN?
Provavelmente. É do lado da minha mãe. Sempre escrevi muito e tinha péssimas notas a tudo o que era Matemática e Ciências. Por outro lado, era um grande aluno na área de Letras. Mas só no final do primeiro ano é que percebi que para levar esta profissão a sério é quase uma escolha de vida. A partir do momento a que te submetes a esta profissão, entras para um clube onde as regras e os pressupostos são muito complicados de respeitar. E na altura o show bizz praticamente não existia.
Quando se dá essa viragem?
Com o boom da ficção nacional, nomeadamente pela TVI. Aliás, acho que nasce antes, com o Médico de Família. E é com as novelas portuguesas que começa a haver mais pessoas com vontade de seguir a carreira de ator.
Voltando ao egocentrismo, uma pessoa ligada às artes tem de ser necessariamente egocêntrica?
Inevitavelmente, mas no bom sentido. Não acredito em nenhum ator que diga que não é egocêntrico. Caso contrário, não estava nesta profissão e chamava os amigos para ir lá a casa. Isto é uma tremenda presunção. Lanço um cartaz de uma peça e cobro bilhete para me irem ver. É profundamente pretensioso. É como convidar alguém para ir jantar lá a casa, mas peço-lhe 15 euros e digo que tem de me ver cozinhar. O culto do ego é bom nesse sentido e não no de nos expormos em festas e coisas parecidas. Não tenho nada contra, mas deve-se assumir que as festas e, por exemplo, uma entrevista, fazem parte de uma indústria, que é inevitável. Mas não é a essência do trabalho. Se vierem com esse intuito, inevitavelmente depois vão sofrer na pele.
É meio caminho andado para o insucesso.
Isto é muito efémero. Até para nós mais velhos é difícil. Deixas de fazer uma novela e passados cinco meses já te esqueceram. Se não houver arcaboiço já construído e essa consciência de que tudo é efémero, no dia em que não te chamam, cais. Já vi acontecer com várias pessoas, até mais velhas do que eu.
Se alguém dissesse “Marcantonio, tens de escolher entre ser ator ou encenador”. O que faria?
Não escolheria. Mais do que um encenador sou um diretor de atores. Como nos últimos anos tenho encenado textos meus, acabo por fazer a filtragem toda. Do texto, passo para a encenação, direção e também represento na peça. A minha escrita é representada. Nunca escrevo longe daquilo que vou representar. A encenação e a escrita surgem por ser ator. A autoria surgiu porque eu represento.
Mas podia continuar só a representar. Tem de haver aí mais alguma coisa.
Há aquela necessidade de dominares tudo. Fui educado como filho único e deve ser por isso. Tenho um lado dominador. A “minha praia” é a direção de atores.
Pelo seu discurso, além de dominador, é um líder, mas um líder que gosta de ensinar. É isso?
Aprendi isso com o João Mota. A primeira coisa que nos ensinou no Conservatório foi criar um grupo de trabalho. Como se colocam pessoas que não se conhecem a trabalhar juntas na mesma sala, cada uma com os seus egos, diferenças, ideias, vidas, maneiras de estar, gostos. Tem de se criar uma união e só depois se começa a trabalhar. Sem essa união é muito difícil. Já participei em projetos em que os atores faziam o seu espetáculo, o encenador fazia o seu espetáculo, os músicos faziam o seu espetáculo e o espetáculo era uma bosta. E o espectador perde-se. Tem de haver uma ligação entre todos.
Li que o seu ideal de vida é ser ator e professor. Certamente faltam aqui algumas coisas. Conte lá o
que seria ter uma vida mesmo perfeita?
A vida perfeita, tenho-a. Um professor disse-me que íamos ter o privilégio de ser crianças a vida toda e ainda nos vão pagar para isso. Percebo porque tanta gente quer vir para esta profissão, porque é de facto maravilhoso. Em vez de ir para casa fazer relatórios, venho decorar um texto e pensar no andar de uma personagem. E no dia seguinte vou para um teatro e estou a brincar constantemente. E isso é um privilégio. Posso ambicionar mais coisas, mas tenho a vida que quero.
É bem pago?
Sim, razoavelmente. Há muita ilusão de que os atores em Portugal ganham fortunas. Fortunas ganham em Espanha, para já não falar dos Estados Unidos. Um espanhol do meu ranking ganha o triplo. É abismal. Para o universo português, admito que alguns de nós são bem pagos. Mas se um ator espanhol chega ao final do mês e não faz contas, nós ainda fazemos. Em Portugal, e isto chateia-me um bocadinho, o valor e a experiência não são bem pagos. Por exemplo, se eu saio de um personagem numa novela – como aconteceu em Remédio Santo –, as pessoas não mandam cartas para a TVI, encontram-me na rua e perguntam-me porque saí. Tenho de explicar que fui contratado e que decidiram matar-me… Em última instância, o espectador não quer ver a TVI, a SIC ou a RTP, quer ver aquele ator ou aquela história. E isso tem de ser pago, nomeadamente os que já têm provas dadas.
Já teve algum problema com essas abordagens?
Não. Tenho tido sempre a sorte de fazer grandes papéis, que caem na graça dos espectadores. Nunca me abordaram negativamente. Estamos num país de brandos costumes. Estive no Brasil e eles não saem à rua como nós. A abordagem é selvagem. Aqui o fã olha para ti, sorri e muito medo pede um autógrafo. Lá, tiram-te a roupa, se for caso disso.
Ser exclusivo da TVI dá-lhe comodidade…
Dá, mas é relativa. Para o ano já deixo de ser. Quem vem para esta profissão tem de de perceber que nunca está bem. Hoje estás muito bem e amanhã não.
Já teve propostas da concorrência?
Sim, claro. É a lei do mercado e a TVI sabe. Não é que tenha tido esta conversa com eles, mas isto é uma aldeia e toda a gente sabe. Mas é bom, saudável e a concorrência é boa.
Afirmou que quem acha a sua escrita interessante é maluco. É isso mesmo ou apenas falsa modéstia?
Quem é maluco é o meu editor. Digo isto por brincadeira. Hoje, apostar em escrita para o teatro é muito complicado. Primeiro, não há um hábito; segundo, a leitura de teatro é muito específica e, muitas vezes, só ganha a sua real dimensão, quando vai para o palco.
Tem um bom currículo, mas aparece pouco. Tem má imprensa?
Tem a ver com algo muito simples: trabalho muito e o pouco tempo livre é para a família. Posso passar a imagem de que tenho a mania ou assim. Recebo dezenas de convites por semana, faço sempre questão de responder, mas não vou por falta de tempo.
Nunca pensou chegar à porta de um ministro ou secretário de Estado da Cultura e dizer: “Vamos sentar-nos aqui um pouco e perceber o que podemos melhorar no mundo do espetáculo”?
O problema do teatro em Portugal é que ainda não se fez uma reflexão séria – não só da parte do poder político, mas de todos nós – depois do 25 Abril para perceber que público temos, que teatro é que fazemos, para quem o fazemos e o que é que podemos fazer. Essa é a primeira grande reflexão que se deve fazer: que meios é que nós – agentes culturais e poder político – temos para fazer que tipo de teatro. Enquanto não se fizer esta reflexão, vamos estar sempre a discutir que não há dinheiro para o teatro, que o poder X é isto e o Y é aquilo, que este ministro presta ou não presta. Por exemplo, sempre que há uma renovação no Governo, o primeiro ministro a cair é o da Cultura. Por que será?
É o parente pobre.
Exatamente. Porque não há essa reflexão nomeadamente com a sociedade civil, que não quer saber da cultura para nada. Há uma elite que gosta, consome, mas mesmo essa elite não quer saber. Só lhe faz diferença se lhe aumentarem o IRS. Não lhe faz diferença se não tiveres uma cultura forte que chegue lá fora. Estive agora no Brasil e é curioso que eles têm uma admiração profunda pela cultura europeia e, nomeadamente, a portuguesa. Falas de Pessoa e cai-te o mundo aos pés. Mais: há mais gente lá fora que conhece Camões, Eça, Gil Vicente. Temos de ter uma estratégia à séria para a Cultura em Portugal e fazermos perceber à sociedade civil que precisam de uma sopa, mas também precisam ver a nossa língua representada lá fora. A verdade é que não temos força. Sempre que há um acontecimento não cultural lá fora promovido pelas entidades ligadas ao poder político em Portugal, têm sempre dificuldade em implantar-se.
Falta arte ao poder político?
O poder político faz o que a sociedade civil quer. Somos nós que elegemos os nossos governantes – essa é outra consciência que não existe – e enquanto a sociedade civil não perceber que o poder político é instituído por nós e não é uma entidade divina, vamos ser sempre “comidos”. Há uns anos participei numa tertúlia onde me perguntaram o que achava e eu opinei. Claramente percebi que aquilo entrou num ouvido e saiu logo por outro. Peco por uma coisa: não sou alinhado com ninguém. Fui de esquerda em tempos, agora sou do meu umbigo. Pago um preço por não ser alinhado, não só por correntes políticas, como sociais e intelectuais. Sinto-me bem assim, mas se quiserem perguntar estou cá para responder.
Já plantou uma árvore?
Já. Uma laranjeira ou tangerineira. E plantei tão mal que o Henrique Garcia – um dos meus melhores amigos e que tem um monte no Alentejo – teve de mudá-la.
Conta na mesma. Assim, com a árvore, uma filha e dois livros, pode dizer que já fez tudo.
Não, de todo. Para mim o papel mais importante é sempre o próximo. Não tenho aquela ambição de fazer o Hamlet ou coisa parecida, mas tenho noção que até morrer ainda tenho de fazer muita coisa.
Texto: Humberto Simões; Fotos: Bruno Peres; Produção Romão Correia; Maquilhagem e Cabelo: Ana Coelho com produtos Maybelline e L’Oréal Professionnel
Siga a Revista VIP no Instagram
TOP VIP
-
1Realeza
Letízia
Ex-namorados da rainha não a podem nem ver: “Pela minha saúde mental…”

-
2Moda
Letízia
O vestido romântico que encantou tudo e todos: “Maravilhosa”

-
3Realeza
Letízia
Há uma rainha que não pode ver a monarca espanhola nem pintada?

-
4Nacional
Cristina Ferreira
Há quem não veja futuro na relação com João Monteiro: “Não acredito…”